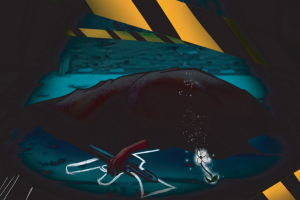Por André Santos. Edição: Thiago Borges. Capa: montagem de Rafael Cristiano a partir de ilustrações de Lil Amaral
“As abordagens policiais são uma porta de entrada para o cárcere. Nós acompanhamos muitos casos de jovens forjados em abordagens realizadas de forma irregular, baseadas em perfilamento racial e não em fundada suspeita, que seria o correto”.
A fala acima é de Luana de Oliveira, de 42 anos, moradora da Vila das Belezas, na zona Sul. Educadora popular no Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Limpo (CDHEP) e articuladora da Rede de Proteção e Resistência Contra o Genocídio, ela faz o triste relato de uma realidade que ainda faz parte do cotidiano da juventude periférica.
Afinal, de acordo com o 17º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2023, o perfil da população carcerária no Brasil é de homens jovens e negros. O levantamento indica que pessoas entre 18 e 29 anos correspondem a 43% das pessoas privadas de liberdade no País, enquanto as pessoas negras correspondem a 68% do total.
O estudo também mostra que este perfil é o mesmo da grande maioria das vítimas de mortes violentas intencionais. Em média, 91,4% desses casos vitimaram homens, enquanto 8,6% envolveram mulheres. Em relação às mortes ocorridas durante as intervenções policiais, 99,2% das vítimas eram homens, sendo que 83,1% deles eram negros.
Para conscientizar o público e reduzir esses números, os Núcleos de Cidadania e Direitos Humanos e Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Rede de Proteção e Resistência Contra o Genocídio lançaram a “Cartilha sobre Abordagem Policial: O que você precisa saber e como agir?”.
O material é um guia básico sobre direitos que cada pessoa tem ao ser abordada pelas forças policiais, que por vezes agem de forma violenta e opressora, desrespeitando a premissa de que as abordagens devem acontecer sem nenhum tipo de agressividade.
Clique aqui para fazer o download ou navegue na cartilha ao final da matéria
Relatos comuns
A realidade, no entanto, é de um cenário hostil, em que agentes geram muito mais insegurança que segurança, sobretudo nas periferias.
Em uma das oficinas promovidas pelo CDHEP com educadoras e educadores populares da Fundação Julita, participantes relataram situações comuns em contextos periféricos.
Um desses relatos é o de Pedro Henrique Silva, de 20 anos, morador do Jardim São Luís, na zona Sul, estudante e estagiário de educação física.
“Já passei por algumas abordagens e em uma delas fui agredido. Eu não sabia dos meus direitos e o policial era super violento. Eu estava voltando da escola, estava calor mas eu estava de moletom, e como eu estudava de tarde chegava em casa quase de noite. Nisso, me pararam e me agrediram”, conta ele.
A jovem Maria Vitória, 19, já presenciou uma abordagem violenta, quando policiais obrigaram seus amigos a comerem a pequena quantidade de maconha que portavam. Pouco depois do ocorrido, o grupo buscou orientação e protocolaram uma denúncia oficialmente contra os agentes.
“Depois desse momento, eu fiquei muito em choque. A gente fez uma denúncia anônima no site da Defensoria Pública sobre o ocorrido, mas é bem difícil agir. Por mais que a gente saiba que pode agir, dá um medo”, relata a moradora do Jardim São Luís, que é estudante de pedagogia e integrante do Coletivo Comunidade em Movimento, da Fundação Julita.
Também do Jardim São Luís e integrante da turma de jovens monitores, Caio Nunes, 22, considera que apesar de os conhecimentos serem valiosos é necessário ter cautela na hora de agir. Isso porque a abordagem por si só, sem qualquer tipo de resistência, já é uma situação que gera risco às pessoas envolvidas.
“Depende muito. Se eu encontrar um policial muito violento, vou ficar mais recuado, mas se eu ver que o policial está disposto a trocar uma ideia eu vou apresentar os argumentos que eu tenho. Se ele for agressivo, vou ficar recuado e não interferir, mesmo sabendo dos meus direitos. Depois é correr atrás de denunciar”, diz Caio.
Cautela
Luana Oliveira alerta que, mesmo ao identificar irregularidades, o procedimento mais seguro a ser adotado é evitar o confronto com o policial em questão, além de não tentar filmar a ação, por exemplo.
A mestranda em sociologia pela Unicamp indica que o correto nesses casos é tentar identificar o número da viatura envolvida na abordagem para então realizar as denúncias de forma anônima, como foi feito por Maria Vitória, por exemplo.
“Nós sabemos que, infelizmente, nas periferias urbanas, saber seus direitos não é suficiente, tendo em vista que a lei é para todos, de forma igual, mas a aplicação dela não. Mas entendemos que fazer com que as pessoas conheçam seus direitos contribui para que estratégias coletivas e comunitárias de proteção sejam criadas e colocadas em prática”.
Apesar da dificuldade em agir nesses momentos, Luana aponta que é de extrema importância que haja um trabalho pela consciência da população das comunidades mais impactadas pelas ações violentas das polícias. Com as denúncias coletivas realizadas, ela acredita que podem evitar violações de direitos humanos e, quando ocorrerem, haja responsabilização dos agentes.
Matheus Vargas, 21, já passou por abordagens violentes e ficou surpreso com o fato de existirem direitos a serem respeitos em um enquadro.
“Eu acho que é bom para a gente evitar certos desacertos, sabe? Certas coisas que a gente passa…. Evitar as abordagens é meio difícil, meio impossível, mas com a gente sabendo dos nossos direitos, talvez a gente consiga agir com mais cautela”, aponta o estudante de Educação Física, que também integra o projeto de Jovens Educadores promovido pela Fundação Julita.
Por um futuro melhor
Apesar do cenário de violência, o trabalho de conscientização é uma forma de tentar reduzir o número de vítimas dentro de um contexto de extermínio de corpos com classe, cor e CEP definidos.
Essa conscientização deve acontecer, em um primeiro momento, de dentro para dentro, a fim de desenvolver um senso de coletividade em relação às pessoas diretamente atingidas pela violência e opressão policial. O primeiro passo, nesse caso, é o pleno conhecimento de seus direitos.
Pedro Henrique diz que, para além de gerar autoproteção, receber materiais que promovam os conhecimentos de seus direitos em uma abordagem é de extrema importância. Agora, quer ‘espalhar a palavra’ com as pessoas que, costumeiramente, não conseguem identificar onde seus direitos foram violados.
“Além de nos conscientizar, ter acesso à cartilha faz com que a gente transmita isso para outras pessoas no território, que às vezes não tem esse acesso”, conta Pedro.
“Meu filho foi preso, tô desesperada e não sei o que fazer. E agora, PEM?”
Em uma sociedade que por vezes adere fortemente ao discurso de ódio contra pessoas marginalizadas, sobretudo motivado pelo grave problema de crime contra o patrimônio que permeia todo o território brasileiro, é essencial que existam espaços de desconstrução de ideias que perpetuem o genocídio de uma parcela significativa da população.
“Nosso maior desafio sempre foi e ainda é mobilizar a opinião pública e a participação popular. A ideia do ‘bandido bom é bandido morto’ é reforçada todos os dias nos programas da televisão aberta. O que não ocorre é o estímulo a reflexão de que esse corpo que é considerado o bandido são os nossos filhos, jovens, negros, pobres e moradores das periferias. Com esse material, estamos tendo a oportunidade de apresentar o que é direito e fazer com que as pessoas reflitam e comecem a questionar o que efetivamente acontece e que difere do que é direito”, finaliza Luana.