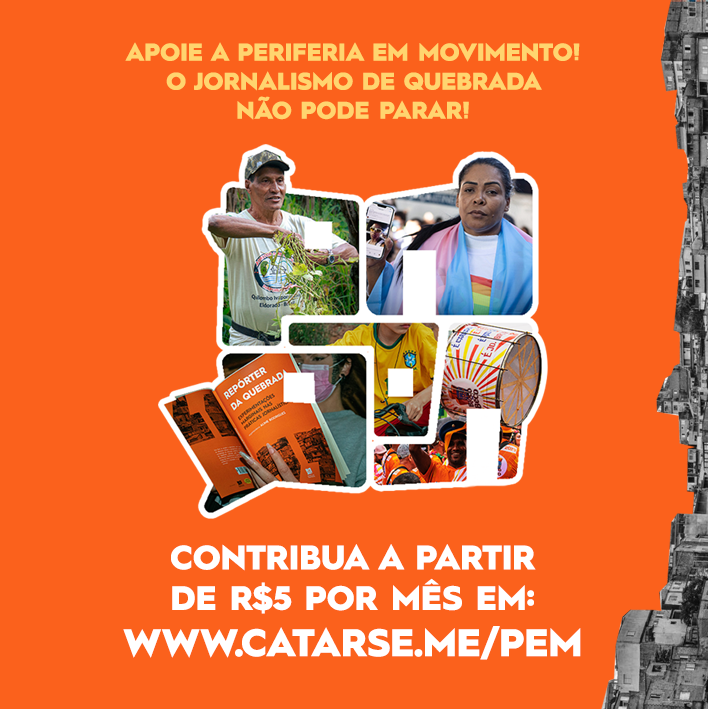A represa Billings completou um século de existência em 27 de março de 2025. Mais do que comemorações, a data significativa levanta reflexões sobre o presente e o futuro e do reservatório de água, que abastece as cidades do Grande ABC (São Bernardo do Campo, Santo André e Diadema), além de parte de São Paulo e municípios como Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
O manancial tem capacidade para pouco mais de 11 bilhões de litros de água e um fluxo de produção de 5,5 mil litros por segundo para atender à população. Por outro lado, mais de 1 milhão de pessoas vivem em suas margens, o que desafia a preservação da qualidade da água.
Lideranças territoriais e de movimentos sociais apontam a falta de fiscalização e o cumprimento da legislação ambiental, bem como as principais dificuldades que isso gera para o bem viver em bairros e comunidades tradicionais que se relacionam diretamente com a represa.
Isso ficou evidente no fim de abril, em uma audiência pública convocada pela deputada estadual Marina Helou (Rede), que é coordenadora da Frente Parlamentar Ambientalista pela Defesa da Água e do Saneamento na Assembleia Legislativa (Alesp). Foram apresentados dados alarmantes sobre a perda de qualidade da água, assoreamento, e a presença de esgoto, indicando que a poluição está avançando para áreas antes preservadas.
A discussão também abordou os desafios de urbanização, empreendimentos ilegais e os impactos das mudanças climáticas na represa, enfatizando a necessidade de ação conjunta e dados transparentes para proteger este vital recurso hídrico.
Qualidade em baixa
A professora e pesquisadora Marta Marcondes, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, diz que é preocupante o cenário mensurado pelo Índice de Qualidade de Água (IQA).
“As áreas onde o IQA está bom são áreas que precisamos cuidar como se fosse um filho pequeno. Não é possível que haja nenhum tipo de avanço de poluição, de retirada de vegetação e nem de nada”, diz ela, que coordena o Projeto IPH – Índice de Poluentes Hídricos, que atua no monitoramento das águas e fornecimento de dados para subsidiar políticas públicas de saneamento e prevenir doenças na população.
“Em dez anos, nós tivemos um prejuízo do braço do rio Grande, que era bom e passou para regular, e um prejuízo no braço do rio Pequeno, que era ótimo e agora está bom. A gente vem perdendo a qualidade de água do reservatório”.
Marta alerta sobre a perda de capacidade de armazenamento do reservatório como um fator preocupante. A professora aponta que, ao longo de 10 anos, foram feitas diversas medições que buscavam quantificar a profundidade da represa, separando o que havia de água e de sedimentos.
Em determinados locais, as mudanças foram tão drásticas que houve, por exemplo, a formação de um “lixo berg” (iceberg de lixo). Em uma área perto da Usina da Pedreira (na zona Sul paulistana) a profundidade que era de 25 metros diminuiu para apenas 70 centímetros devido ao acúmulo de lixo e sedimentos no local.
“Nós tivemos perdas significativas, de 10% a 30% da capacidade de armazenamento. Nós temos uma deposição de matérias no fundo desse reservatório que impede que a água seja armazenada de maneira adequada para a gente poder fazer a captação” – Marta Marcondes.
Represa poluída – e poluente
Os efeitos de deterioração da represa Billings podem ser reforçados a partir das mudanças climáticas, que se intensificam com o avanço da poluição e da falta de saneamento. O excesso de sedimentos gera a liberação de metano, gás que provoca o efeito estufa e é o segundo maior contribuinte para o aquecimento global.
Marúcia Whately, do Instituto Água e Saneamento, menciona a importância de aproximar o debate do saneamento com o debate da adaptação climática. Ela também indica que a gestão de riscos hídricos baseada apenas no que aconteceu no passado é insuficiente, e é estratégias para lidar com problemas nunca antes enfrentados.
“A gente não pode mais fazer coisa olhando para o retrovisor, porque o que a gente tá vendo que vem pela frente não vai estar explicado pelas séries históricas” – Marúcia Whately.
Outro ponto levantado por Marúcia é a respeito da redução da capacidade em lidar com os problemas ambientais. Neste verão, o índice de chuvas foi 5,3% abaixo da média, mas mesmo assim houve diversas enchentes em São Paulo e na região metropolitana.
“Quando a gente para pra olhar como os eventos climáticos estão aumentando a intensidade e frequência, grande parte deles se dá por alguma relação com a água. A água e o clima são indissociáveis. (…) A gente está começando a desarticular alguns sistemas e perdendo a capacidade. Estamos andando para trás. Quando nós, que trabalhamos nessa área e sabemos o que está por vir, vemos a região metropolitana e o município de São Paulo tão despreparados para lidar com esses eventos, a gente fica muito preocupado”, pontua.
Preservar a ancestralidade
Gilmar Nhamandu é uma das lideranças da aldeia guarani Guyrapaju, em São Bernardo do Campo. Ele aponta que a luta pela sobrevivência de comunidades tradicionais está diretamente ligada à preservação ambiental, destacando sobretudo a forte relação dos povos indígenas que habitam a região da bacia hidrográfica com as águas da represa.

Na aldeia guarani Tenondé Porã, em Parelheiros, extremo sul de São Paulo (Foto: João Claudio de Sena)
“A gente costuma sempre, de alguma forma, preservar o nosso território para que possamos ter uma boa qualidade de água. (…) Sobre a represa, nós temos uma relação muito respeitosa, é de onde tiramos o nosso sustento, onde levamos nossos filhos para se divertir, conhecer a água e o porquê da importância da água. A gente tenta preservar o pouquinho que temos”, diz.
Gilmar indica que, para as comunidades tradicionais, essa conexão entre preservação e sobrevivência e qualidade de vida é uma estratégia fundamental para a manutenção da cultura e modo de viver.
Isso fomenta a circularidade do conhecimento ancestral e também a produção de novos saberes a partir de estudos realizados sobre as águas e as florestas da região, com o intuito de garantir a conservação do território.
“A gente procura, além de preservar, ter essa cultura e esse modo de vida que é muito significativo pra gente. As pessoas não-indígenas precisam conhecer a realidade, tanto dos povos originários quanto da represa” – Gilmar Nhamandu.
A partir dessa relação, Gilmar questiona sobre os planos de preservação previstos para os próximos 100 anos. O caminho a ser seguido é de união entre as comunidades tradicionais, a sociedade civil e o poder público, para que resultados significativos sejam alcançados.
“Vamos ver se nos próximos 100 anos melhora alguma coisa. Precisamos unir forças e brigar pelas melhorias. Vermos o que representa e o que de fato precisamos de recursos para melhorar a qualidade de vida, tanto humana quanto dos animais e dos sobreviventes da terra. Desistir depois de tudo que a gente já lutou não é uma opção. A gente resiste, e o resultado logo virá”, finaliza.
Edição: Thiago Borges. Fotos: Arquivo Periferia em Movimento / Pedro Salvador e Vitori Jumapili