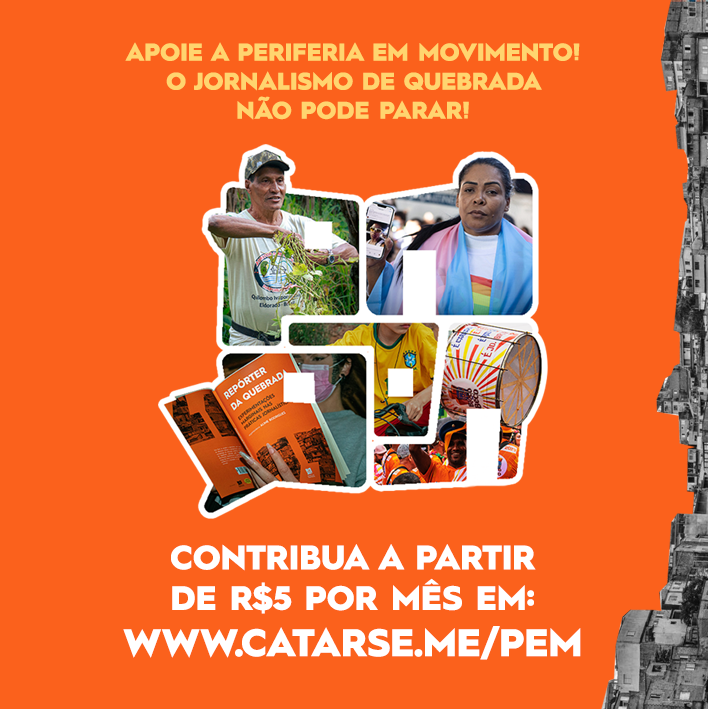Por Hysa Conrado
Dez anos após a sua primeira edição, a Marcha das Mulheres Negras pretende voltar a Brasília em novembro deste ano com um milhão de mulheres. Antes disso, no entanto, o movimento organiza caminhadas em diversas cidades do país neste 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, para reafirmar as reivindicações por equidade e justiça racial.
Em São Paulo, o ato acontece na Praça da República, com concentração a partir das 17h.
Impulsionada pelos conceitos de reparação e bem-viver, a Marcha foi idealizada pela ativista e engenheira agrônoma Nilma Bentes e em 2015 reuniu 100 mil na capital do país. Emblemática, a manifestação lançou luz sobre as questões de gênero e raça que permeiam as desigualdades no Brasil.
Nesta entrevista com Juliana Gonçalves, jornalista, pesquisadora e articuladora do Núcleo Impulsor da Marcha em São Paulo, a Periferia em Movimento buscou entender o que mudou desde 2015, quais as conquistas e os retrocessos, e refletir sobre o impacto da Marcha na vida de pessoas periféricas.

Juliana Gonçalves durante a Marcha das Mulheres Negras realizada em 2024, em São Paulo (foto: Vitori Jumapili / Periferia em Movimento)
Confira abaixo!
PEM: A qual legado histórico e político a Marcha das Mulheres Negras dá continuidade?
Juliana Gonçalves: Na minha visão, esse processo faz parte de um legado e de um aprendizado sobre a organização política como ferramenta de emancipação social. Se pensarmos nos quilombos, na luta pela libertação das pessoas escravizadas, no candomblé ou na Frente Negra Brasileira, vemos que são experiências coletivas que ajudaram a construir caminhos para a liberdade.
A Marcha faz parte desse grande processo de organização política das pessoas negras, especialmente das mulheres negras. Não é apenas o evento em si, mas tudo o que acontece antes: a formação política, a organização, o despertar da consciência racial em outras mulheres.
PEM: Como as individualidades das mulheres se articulam na construção da Marcha?
Juliana Gonçalves: Também compreendemos a força que a marcha tem como uma resposta popular, vinda de mulheres negras com níveis diversos de ativismo e experiências identitárias variadas. São mulheres evangélicas, católicas, do candomblé, da umbanda, do budismo; são mulheres transgênero, travestis, bissexuais; mulheres que vivem em grandes cidades como São Paulo, mulheres quilombolas, ribeirinhas.
O movimento organizado, o movimento social de mulheres negras, tem sido a ponta de lança dessa estrutura da Marcha, o que faz com que sejamos extremamente diversas. Isso é muito positivo, porque essa ideia de que o diferente precisa ser anulado e apagado é herança de um binarismo colonial branco. Nós não pensamos assim. Entendemos que nossa diversidade é uma riqueza civilizatória.
PEM: Qual é o projeto político que impulsiona a Marcha das Mulheres Negras?
Juliana Gonçalves: A marcha traz um projeto político que reflete o Estado que queremos. Em 2015, dizíamos muito que, quando uma mulher negra avança, ninguém fica para trás. Porque somos, de fato, aquelas que sustentam este país em muitos sentidos: desde a base do trabalho doméstico, do cuidado, da alimentação, até as que hoje ocupam espaços institucionais, na política, nos ativismos, nas empresas e no meio corporativo. Há mulheres negras construindo horizontes políticos a partir desses lugares.
O que faz a marcha perdurar é que ela faz sentido na vida das mulheres negras. Todos os debates sobre o reajuste fiscal, a jornada 6 por 1, ou sobre por que as mulheres negras pagam mais impostos que outras pessoas, nos afeta diretamente.
PEM: O conceito de bem-viver está muito presente na marcha. O que ele significa e como ele se manifesta na vida das pessoas, especialmente nas periferias?
Juliana Gonçalves: Quando Nilma sugeriu a realização da marcha, ela também defendeu a inclusão do bem-viver no nome oficial do evento. Trata-se de um termo que possui correspondência de significado em diversas culturas tradicionais que não tinham o capitalismo como única forma de organização. Isso porque o bem-viver expressa uma crítica ao que o modelo de sociedade capitalista impõe aos corpos racializados.
Nilma afirma que propôs o bem-viver como crítica ao capitalismo, mas também como um horizonte de prosperidade. Ao tratar da crítica ao capitalismo, especialmente ao desenvolvimentismo, estamos nos referindo a algo macro: à organização do mundo, inclusive ao seu ordenamento. Mas o bem-viver também possui dimensões individuais e particulares, especialmente no que diz respeito ao cuidado com o corpo. Para as mulheres negras, essa dimensão do cuidado é revolucionária. Fomos educadas para cuidar do outro, não de nós mesmas.
Os cinco pilares do bem-viver são: o caráter comunitário; a valorização e outra forma de relação com a natureza; a diversidade enquanto riqueza; a valorização dos saberes ancestrais; e a crítica ao modelo capitalista e desenvolvimentista.
PEM: Qual a importância de voltar a Brasília 10 anos depois e o que se espera com essa mobilização?
Juliana Gonçalves: Em 2015, já denunciávamos o racismo estrutural. Já tínhamos vivenciado os primeiros anos do governo Lula, estávamos no governo Dilma, víamos várias políticas afirmativas sendo implementadas, processos democráticos como as conferências e a participação popular acontecendo. Ao mesmo tempo, observávamos o crescimento do genocídio da juventude negra, os homicídios, a letalidade policial, o encarceramento em massa. A população negra em geral era a mais presente entre a população em situação de rua e os que estavam vivendo na miséria. A violência doméstica, o feminicídio e o silenciamento institucional também estavam presentes.
Essas pautas seguem urgentes. Continuamos enfrentando um cenário muito triste em relação à morte da população negra, com a continuidade do genocídio e da violência de Estado. Na semana passada foi o jovem Guilherme; na anterior, outro jovem; antes disso, foi o menino Miguel; depois, Ágatha. O nosso corpo continua caindo.
PEM: Como a Marcha reverbera em ações concretas no dia a dia das mulheres negras nas periferias?
Juliana Gonçalves: Ainda vivemos uma realidade subalterna e precarizada. A trabalhadora negra do dia a dia sofre com isso tanto quanto as mulheres organizadas. Queremos segurança, acesso à saúde, escola de qualidade para nossos filhos, comida boa no prato. Voltamos a discutir a fome de forma séria no Brasil, especialmente após a pandemia.
Muitas casas enfrentam insegurança alimentar: na prática, isso significa não ter jantar depois do almoço, ou não comer no almoço para conseguir jantar. Esse debate também é sobre o direito à alimentação saudável. Tudo isso é real na vida das mulheres negras e a Marcha fala sobre essa realidade.